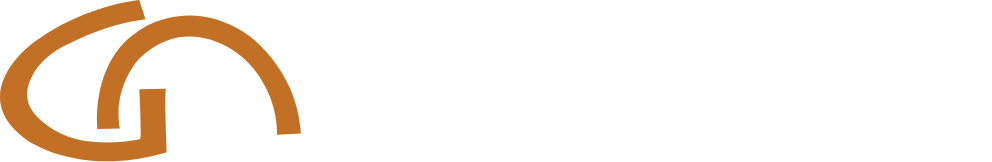Baixe o arquivo em pdf clicando aqui
As pujantes prerrogativas da Administração Pública, que concretizam e solidificam, segundo literatura clássica do Direito Administrativo, o denominado regime jurídico-administrativo, ecoam como reforço para salvaguarda do interesse público, cujo rótulo (e conteúdo), nas mais variadas vertentes, deságuam em um privilégio descomunal, criando, pragmaticamente, confusas barreiras aparentemente difíceis de serem superadas.
Ao mesmíssimo alcance dos Poderes da Administração Pública se somam outros tantos privilégios, os quais, ao menos na seara contratual, não deveriam encontrar qualquer espaço para natural sobrevivência. Quando se fala de contratos “administrativos” — é dizer, os firmados com a Administração Pública (perdão a inclemente tautologia) — vigora, a mais elevada potência, um certo misticismo, alheio à roupagem dos contratos, aderindo à natureza desses ditos acordos uma exorbitância completamente prejudicial a quaisquer das partes.
Logo, sem qualquer precipitação conclusiva, não há como negar que as sobreditas cláusulas exorbitantes passeiam por um passado que já não mais deveria existir, porquanto distorcem a formação da vontade administrativa — concebivelmente — alcançável.
É mero devaneio ambicionar, imaginariamente, uma conjectura e estrutura contratuais em que a uma das partes contratantes seja declinado, sem qualquer recato, a quase totalidade dos ônus decorrentes de um contrato. Se isso ocorre, aos passíveis e hipotéticos prejuízos decorrentes da exorbitância contratual (que podem ou não se materializar no mundo prático), soma-se uma série de encargos, que o contratado, não declaradamente, tende a alocar no “custo da contratação”. Embora tudo isso possa — e deva — ser evitado, a realidade contratual da Administração Pública transita por esse nebuloso e ininteligível percurso.
Logo, partindo de uma equalização (matemática) ínsita à própria condição contratual, em que se calculam, por ambas as partes contratantes, perdas e ganhos, a desproporção ocasionada pela existência das cláusulas exorbitantes são compensadas no preço final do contrato, que se torna, invariavelmente, mais dispendioso para a Administração. Trata-se, de forma inquestionável, de um jogo de “faz de conta”, em que as partes, insolentemente, sabotam o que poderia ser melhor negociado.
Diferentemente da iniciativa privada, em que se discutem cláusulas, ajustes e termos, a Administração Pública, em desfavor de si mesma, disponibiliza ao mercado um arquétipo contratual — que, via de regra, segue um processo objetivo prévio de escolha (licitação) — com o qual concordam somente aqueles que, aritmeticamente, após estimativa de possíveis perdas (e incrementando o valor final), tendem a suportar as decorrências que emanam das cláusulas exorbitantes.
Por todos os ângulos, o sistema criado pela existência das cláusulas exorbitantes é infausto, sendo despiciendo — e, portanto, cansativo para o leitor — discorrer sobre os demais malefícios que despontam de tão anoso e vetusto modelo, cuja aversão desfigura a natureza dialógica cada vez mais encontrável na seara administrativa.
Negociar deve ser, para qualquer contratante, uma consequência da só existência do contrato, não devendo ser diverso para a Administração Pública tão salutar método de atingimento da vontade das partes. A antítese a essa premissa oportuniza criações indesejadas, cingidas nas franjas da irrestrita legalidade, todavia em franco preconceito ao concretizável interesse público.
Isso porque não é tolerável imaginar a preponderância de qualquer sombra de interesse público quando a res publica agregam-se custos que deveriam ser evitados e que somente existem por decorrência das cláusulas exorbitantes. Portanto, se as cláusulas exorbitantes proporcionam prejuízos, o interesse não é, primariamente, público.
No entanto, lampejos de ousadia normativa raiam dos mais recentes arcabouços legislativos, trazendo a realidade do mundo negocial para o contexto da máquina pública e franqueando à Administração a possibilidade de extirpar, ainda que a passos tímidos, o engessamento proveniente de cláusulas contratuais pré-fabricadas.
Exemplificativamente, a Nova Lei de Licitações, no arrojo de solucionar típico problema inerente aos contratos firmados com a Administração Pública, rotulou, sem qualquer arrodeio, que o equilíbrio dos contratos — inclusive “administrativos” — é direito patrimonial disponível, sobre o qual pode a Administração livremente arranjar, perfectibilizando o surgimento de um instrumento contratual que possa ser, integralmente, cumprido.
Destacável, também, que o caminho alcançado pelo legislador na Nova Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos adere, ao menos no que tange ao delicado tema do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, aos termos da Lei das Estatais, que, de maneira sintética — mas com profundidade eloquente —, alheia-se a epitetar os contratos firmados com as empresas públicas e sociedades de economia mista (e suas subsidiárias) como administrativos, purgando a exorbitância contratual e se limitando a interpretar os negócios firmados por tais entidades sem qualquer assomo semântico complementar — são contratos e, como contratos, devem ser interpretados e negociados.
Em idêntica trajetória, flamejam os recentes traços normativos que aderem ao modelo dialógico de Administração Pública, na qual se destaca — sem prejuízo de outros instrumentos de valioso conteúdo interpretativo — a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual, com as alterações produzidas pela Lei nº 13.655/2018, delimitou um verdadeiro obelisco deôntico ao ajuste administrativo, designadamente alocado no artigo 26 da aludida lei.
Para além, avanços mais significativos ainda podem ser notados até mesmo na contextura da Lei nº 14.133/2021. Exemplo prático se comprova quando da leitura do artigo 102, em que se permite que “na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato (…)”.
É inquestionável que, em tal modelagem contratual, em que figura como parte um terceiro não inicialmente contratado e que, por isso, o contrato se afasta do conteúdo personalíssimo outrora encontrado na primeira etapa contratual, inexistem cláusulas exorbitantes, posto que não se pode transferir a um terceiro, ainda que anuente ao contrato originariamente firmado, a carga de suportar um padrão contratual nitidamente inflexível.
Tudo leva a crer que o legislador se envolve, cada vez mais, na solução do problema que possa ser apresentado, afastando-se da burocracia que regozija a inexecução contratual e que privilegia a legalidade formalmente embornecida sob qualquer pretexto. O formalismo exagerado é congregado à ineficiência, pois despeja — sob o disfarce de uma inservível estampa de supremacia do interesse público sobre o privado e de indisponibilidade desse mesmo princípio — no fosso da Administração a inexecução contratual, que sói emanar, ao menos parcialmente, da desigualdade assimetricamente desfalcada pela natureza das cláusulas exorbitantes.
Acomodar as cláusulas exorbitantes no tão valoroso espaço que ocupa o interesse público simboliza a vulgarização desse mesmo interesse, tornando-o lugar comum em que repousam coisas desimportantes, além de afugentar os bons contratantes, que, no assombro da desproporcionalidade contratual, tendem a preferir a incitativa privada, espaço em que a paridade é a regra no trato contratual.
As recentes alterações normativas, todavia, jamais se traduzirão em benefícios práticos se interpretados sem a necessária ousadia. É necessário mais que uma mudança normativa: os agentes administrativos devem inaugurar a assimilação de tão prodigioso intento normativo.
Às cláusulas exorbitantes, concedam-nas seu delimitado espaço, longínquas de uma modalidade contratual que deve, por rigor constitucional, alcançar a eficiência e, sobremais, a economicidade dos ajustes contratuais, exclusive se a prioridade se debruçar sobre o manto do “faz de conta”, onde prevaleça o custo. Terminantemente, cláusulas exorbitantes são indolentes desafetas do interesse público.
Guilherme Carvalho é doutor em Direito Administrativo, mestre em Direito e Políticas Públicas, ex-procurador do estado do Amapá, bacharel em Administração, sócio-fundador do escritório Guilherme Carvalho & Advogados Associados e presidente da Associação Brasileira de Direito Administrativo e Econômico (Abradade).
Raphael Guimarães é sócio do escritório Guilherme Carvalho & Advogados Associados, advogado com larga expertise em Direito Administrativo e membro da Associação Brasileira de Direito Administrativo e Econômico (Abradade).